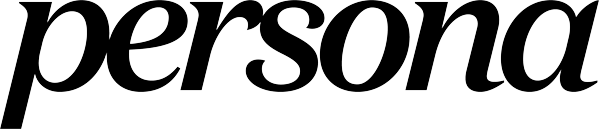Nos últimos meses, o aumento da demanda por atendimentos pediátricos em pronto atendimentos e hospitais estamparam capas de jornais e periódicos do país. Doenças respiratórias e sintomas gripais estão entre as causas mais registradas entre os pacientes. Embora pareça uma situação transitória, os dados refletem outro problema: ainda há um percentual muito elevado de crianças que não foram vacinadas contra a Covid-19 ou contra a Influenza.
Leia também
- Diário explica: como a vacina age no corpo humano
- O que é o movimento antivacina e quais os impactos para a sociedade
O cenário é considerado crítico também com relação à cobertura vacinal de poliomielite, sarampo, caxumba, tuberculose, meningite e outras doenças, cuja incidência e óbitos diminuíram no país devido à vacinação de crianças pequenas. Neste processo, o termo “hesitação vacinal” busca explicar o crescimento do denominado Movimento Antivacina, que assombra um país com um Programa Nacional de Imunizações (PNI) considerado referência mundial por oferecer um amplo espectro de imunizantes para diversas doenças.
Diante do Dia Nacional da Imunização, celebrado nesta sexta-feira (9), saiba como surgiram as primeiras campanhas de vacinação no Brasil, de que formas o período da Ditadura Militar influenciou no processo e quais são os objetivos das atuais iniciativas propostas pelo Sistema Único de Saúde. Entenda também como funciona o processo desde o desenvolvimento do imunizante até a distribuição para a população e a importância da vacina na redução de quadros graves de diversas doenças.
Campanhas
Com pesquisas de mestrado e doutorado focadas na história da saúde e práticas de cura, a historiadora e professora da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) Nikelen Acosta Witter busca enxergar o cenário da saúde brasileira como um todo. Ela argumenta que as primeiras campanhas de vacinação em solo brasileiro tinham um foco específico e objetivos que vão além da saúde da população.
As doenças tropicais, por exemplo, eram uma preocupação tanto no Brasil quanto nos países da América do Norte.
– Há uma percepção na primeira metade do século 20, que doenças tropicais subiriam pelo corredor da América Central, especialmente levadas pelos mosquitos e outros tipos de vetores. Por conta disso, os Estados Unidos, a partir da política da boa vizinhança nos anos 1930, tinha um projeto de inserção nos países da América Latina com auxílios e acordos de saúde. No Brasil, temos o serviço especial de saúde pública, que vai começar a funcionar a partir de um acordo, que dura de 1942 a 1960. A partir disso, eles vão investir tanto na pesquisa de doenças tropicais, quanto no que chamamos de modelo campanhista para aumentar as vacinações dessas populações latino-americanas, no sentido também de salvaguardar a população estadunidense por conta desses contatos geográficos – afirma Nikelen.
A iniciativa, que começa na Era Vargas (1930-1945), não termina com o período da Quarta República (1946-1964). Nikelen destaca que, após o Golpe Civil-Militar, que marcou o início da Ditadura Militar no Brasil, em 31 de março, os acordos envolvendo a imunização da população seguem.
– Durante o período da ditadura, esse modelo campanhista assumiu um papel de guerra contra a doença, sendo incorporado pelas forças militares, que estabeleceram hospitais de campanha e levaram isso para populações periféricas em um modelo de obrigatoriedade da vacina ou incluíram dentro da própria escolarização. Você não entrava no colégio sem obrigatoriamente estar vacinado ou apresentar o comprovante. Ou dentro da própria escola, os vacinadores iam e vacinavam as crianças.

Direito
Para estabelecer a inviolabilidade de direitos e liberdades básicas, a Constituição brasileira surge em 1988 e prevê uma seção específica para tratar das políticas de saúde. Em 19 de setembro de 1990, a Lei 8.080/1990 cria o Sistema Único de Saúde (SUS), mudando os objetivos da imunização. Com isso, quem passa a aplicar as vacinas são os médicos e não mais os militares.
– O SUS vai modificar a forma de campanha, passando a trabalhar mais o convencimento da população do que a obrigatoriedade. Então, trouxeram o Zé Gotinha, fizeram campanhas nas escolas e incorporaram, principalmente nos meios de comunicação, para levar as pessoas a tomar vacina. Isso a tal ponto que o Brasil chegou a ser reconhecido, internacionalmente, como a população que melhor entendia a necessidade da vacina e tinha uma verdadeira vocação vacinal. No início da pandemia, tínhamos essa fama fora do Brasil e se queria usar essa experiência brasileira, essa percepção da população do quanto a vacina era necessária para a manutenção da vida e para o próprio desenvolvimento das crianças – conta Nikelen.